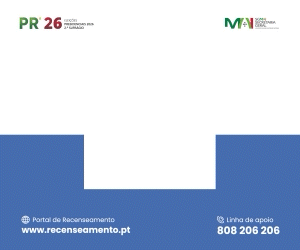Ter, 07/08/2007 - 11:55
Os meus sentimentos na altura eram muito complicados, sempre me maravilhava com o Barracão ao pular da camioneta da carreira, efervescente de alegria por regressar ao Paraíso, a Senhora Aurora todos os dias observava o vai-e-vem de gente gorda e magra, boa e maléfica, rufiona e calma, honesta e aldrabona em múltiplas actividades desde as megeras à procura de dinheiro aos almocreves a guiarem bestas carregadas de odres de vinho em direcção à Galiza, passando pelos contrabandistas, guardas-fiscais, pobres de pedir, miseráveis capazes de executarem todo o tipo de maldades, padres da missão a prometerem o inferno aos pecadores, matreiros negociantes e manhosos meliantes. Assim era há dezenas de anos, assim foi durante mais de meio-século, sendo surda, muda e cega, única forma de suportar um viver de vivências num território marcado pela estridência da linguagem, pelo apego ao fazer justiça sem ir à justiça, sendo testemunha directa e indirecta de cruentas sequelas da guerra cicil espanhola e dos grotescos episódios dos “Cucos” do Pinheiro. No avião continuei a rever imagens, apostrofei-me por não ter escrito ao Marcelino quando soube da morte da Senhora sua mãe, Tia para todos, e Mãe afectuosa para os seus filhos. O ódio ao Barracão irrompia no dia da partida, enquanto o Sr. Jerónimo não chegava, a minha avó tentava tirar-me as lágrimas dos olhos, mas à medida que umas escorriam até aos lábios outras irrompiam como a dar razão ao poeta, ao aludir: “no dia que não te vejo, meus olhos são duas fontes.” Uma vez, fez-se ouvir a Mãe do Lucas. O dia estava gélido, ela trazia um casaco de malha grossa, protegia a cabeça e o rosto com um lenço de lã ou cachené, pousou-me a mão no ombro, meigamente sussurrou-me palavras destinadas a suster a pungente saudade que já tinha principiado e as lágrimas a inundarem-me a boca. As muitas emoções sossegaram, mas na altura dos ósculos de despedida voltaram a irromper violentamente, Agarrei na maleta, no saco das maçãs porfírias e enfiei-me na camioneta.
No decorrer de uma manducação suculenta com o Afonso Praça e participada pela Né Ladeiras falámos dos encantos do Nordeste, das suas sombras e luminosidades. Esboçamos a possibilidade construirmos um guião em torno dos meninos enjeitados, os fenómenos de violência originada por zelos, intrigas e partilha de águas, misturando os “maus rapazes” e o drama espanhol de 1936. Na altura, aludi à Senhora Aurora, na medida de, forçosamente, ter mitigado a fome e a sede a milhares e milhares de pessoas durante toda a sua longa vida, mas também a centos de homens e mulheres das mais desvairadas proveniências que no torvelino da guerra passaram pelo Barracão. O projecto não teve sequência, outros e novos trabalhos desviaram-me da intenção de um dia amparado pelo meu bloco-notas procurar a Senhora Aurora, a fim de lhe ouvir a sua versão sobre o tiroteio que envolveu um elemento da PIDE e três “rojos”, numa curva da estrada ali bem perto. A razão centrava-se numa discussão que tinha tido acerca deste episódio com o escritor Bento da Cruz. Outros casos mereciam ouvi-la, por nás ou nefas, sempre deixei escapar o ensejo. Um sociólogo africano disse: “quando morre um velho em África, arde uma Biblioteca.” A mágoa de não ter conversado com a mulher do “Tio Artur” ficou, nem ao menos lhe agradeci os rebuçados que um dia me ofereceu. Este escrito não apaga a falta, espero bem que algum dos filhos ou filhas tenha tido o cuidado de passar à escrita, o muito que aquela boa Mulher registou, sem nunca disso ter dado eco tão ao gosto das comadres, o que só a torna ainda mais digna de admiração.