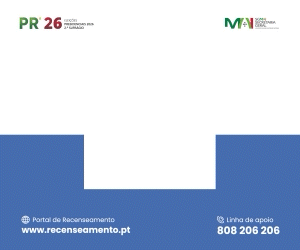Torre de Moncorvo tem a Casa de Violante Gomes, a Pelicana, e a Rua Prior do Crato. Agora, tem também uma ficção que honra a Praça, a Feira Franca filmicamente documentada, a mais imponente igreja da região e quantos, seguindo o diálogo a espaços socrático de dois amigos nos nossos dias, Jorge Vilela e António Rebocho, encadeiam a história do judaísmo na região, prolongam dúvidas sobre a historiografia à volta de D. António, Prior do Crato, e se demoram nos pequenos luxos da memória, seja uma alheira, seja um copo de vinho fino. Se ainda não tem, a vila deveria ter uma rua D. Luís de Portugal. O argumento é simples. Acompanhado pelo fiel escudeiro David, cujo nome diz muito, também com família no seio da vasta comunidade judaica de Moncorvo, o infante D. Luís sobe o país ao serviço do irmão D. João III, quando, subitamente, uma jovem amazona vinda do Rio Sabor lhe sobressalta o coração. Tirando informações, confirma-se, num segundo momento, vencido pela fermosa pandeireta, em baile que deixa a cabeça à roda ao 5.º duque de Beja. Travam-se de razões, deita ele às malvas um compromisso com menina inglesa, e, em Março de 1531, nasce D. António, último e desafortunado ramo de Avis, que, em 1580, ainda cunha moeda como Antonivs I (no anverso, a inscrição de Constantino e D. Afonso Henriques em Ourique: In hoc signo vinces), rei de Portugal assim reconhecido, no exílio, junto das potências inimigas de Espanha. O autor parte de uma demora na FNAC em que, por acaso, lhe cai nas mãos Manuel Alegre, Auto de António. Até à bibliografia registada no final vai um longo caminho, entre História pátria e contributo judaico: neste segundo domínio, acompanha estudiosos que justificam um interesse crescente plasmado no Centro de Interpretação da Cultura Sefardita, em Bragança. Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal, dedicara a essa presença o quinto volume dos onze das Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança; o nosso comum amigo Amadeu Ferreira trouxera a Inquisição para terras de Mirando Douro em Tempo de Fogo; eu mesmo, em O Romance do Gramático, acompanhara as vicissitudes do nosso primeiro gramático, Fernão de Oliveira, cujo processo inquisitorial editarei nas Obras Completas de Fernando Oliveira, em curso na Fundação Calouste Gulbenkian. Salvo o que, ficava campo aberto para o berço moncorvense dos Borges e Azevedos, apelidos assumidos pelo bisneto Jorge Luís Borges, que dirá Azevedo nome ‘judeu-português’. Eis a atmosfera em que, por acaso, e, logo, em honesto estudo, entra o nosso autor para se abalançar às 500 páginas de A Formosa Pelicana (Lisboa, Âncora Editora, 2021).
D. Luís de Portugal
Na Vida do Infante D. Luís (1735), D. José Miguel João de Portugal, 9.º conde de Vimioso – e já o 3.º conde, D. Francisco de Portugal, fora o principal aclamador de D. António em Santarém –, é-nos dito que este infante «Nunca mudou de estado, naõ chegando à conclusaõ pratica de quatro casamentos, […]. Incitado do verdor dos annos, e enganado das attraçoens da fermosura de Violante Gomes (chamada a Pelicana pello excesso da sua belleza), teve um filho q͂ se chamou D. Antonio.» (p. 151) D. Luís estava com 24 anos; ela, com cerca de 20. O ledo engano do cronista transforma-se, aqui, em atracção mútua, renúncia do infante à corte inglesa e casamento secreto na ermida da Senhora do Castelo, na Adeganha, segundo documento em posse de uma das raras testemunhas nupciais, o marrano Joaquim, certidão que Filipe II gostaria de recuperar, entretanto entregue ao foragido D. António. Algumas fontes corroboram esse enlace. Pouco seria este enredo, se a ossatura do romance não vivesse de um olhar sobre o século XVI, entre perseguição ao judaísmo e fácil cedência a Espanha de uma nobreza e alto clero (personalizados no Cardeal D. Henrique), aquela debilitadíssima após Alcácer Quibir, devendo inclusive resgastes a Filipe II. Essa perseguição, entretanto (com recuos a D. João II e à chacina do Rossio em 1506, ano em que nasce D. Luís, no baptismo apadrinhado pelo duque de Bragança D. Jaime), remete para um fundamental terceiro ponto: os sefarditas no Nordeste e a demanda de uma Terra Prometida, o que, homologando os hebreus no Egipto, agora expulsos de Espanha, servirá para um balanço de lugares de passagem e sinais messiânicos (leite, mel, arca, arco-íris). Entreluz um hino à geografia transmontana, em sobrevoos descritivos, e, antes de se chegar a Camões, conjugar-se-á um dos principais acenos literários no moncorvense Abílio Campos Monteiro, ao naufragarmos numa impressiva rebofa, essa tromba de água causada pelo Rio Douro irritado, qual novo Dilúvio mimado do Velho Testamento. O sangue é uma questão política. Quem se opõe a D. António diz a Pelicana impura, o que não preocupa D. Luís, bem acolhido na comunidade judaica local. É um favor que a ficção faz ao futuro padrinho de baptismo de D. Sebastião. Uma Violante convertida também convém à ficção, ainda que, dirão alguns, dificilmente esse sangue contaminado findaria os dias no convento de Almoster. É ignorar que o médico Luís Brás de Abreu, que passou a meninice em Vila Flor, com fuga dos pais à Inquisição, deu sete filhos à mulher, afinal, irmã, a qual, descobrindo-se incestuosa, entrou com cinco filhas num convento. A tragédia inspirou O Olho de Vidro (1866), de Camilo Castelo Branco. Corolário da primeira parte, defende-se um natural convívio inter-religioso, que o fanatismo tresvaria, com implicações na política ibérica. Não se perdoa aos matadores de Cristo. Afirma-se, mesmo, que seria preferível um filho de negra ou escrava. Assim, este romance-ensaio é, enquanto ensaio em dias de intolerância, actualíssimo; enquanto romance, aceita inventivas de matriz histórica. A bibliografia final defende quem, logo à partida, não se assume historiador.
Do romance histórico
No romance histórico, o evento ilumina acontecimentos e quadros mais vastos. Evento é uma paixão que gera descendência. Tem um valor de exemplaridade, como obedecer ao coração e não a razões de Estado, e, daí, a firmeza do protagonista, morto demasiado cedo, em 1555, que justifica a designação técnica de ‘herói’. Mas diremos D. Luís único herói? Não me parece que seja a heroína venha do título, como, ao dizermos O Primo Basílio, não é este o herói queirosiano. Figura decisiva, até porque envolve, ou representa, a comunidade judaica, Violante não é figura central: aliás, só aparece na página 128. Ou será o filho, que, patriota, luta pela independência nacional, e perde na sucessão, não pela sua origem controversa, embora isso diga o Cardeal (se assim fosse, o primeiro de Avis, D. João, bastardo e filho de judia, não seria rei de Portugal), mas porque, tendo-lhe aquele dado mestres como D. Jerónimo Osório e frei Bartolomeu dos Mártires, e sido testamenteiro do irmão D. Luís, ele, António, não quis entrar em religião? Centrado numa figura heróica (à escolha do leitor), e num propósito que só é nacional enquanto correctivo da actualidade – que me parece de diálogo inter- -religioso na Europa de hoje, extensivo ao Islamismo, que D. António combateu –, o romance histórico procura espaços representativos no imaginário e momentos-chave da (re)constituição de uma pátria, de um reinado, de um comportamento nobilitante, de um tempo, espírito ou atmosfera, como variamente acontece aqui. O Indesejado D. António na peça de Jorge de Sena visava o Estado Novo e o caso biográfico do autor. Em Manuel Alegre, é o reconhecimento da necessária luta individual, de uma conduta que signifique pátria e esperança, independentemente de reino ou coroa. O rigor literário não tem de coincidir com o rigor histórico, também precário e em formação. Informações há, todavia, que não podem falhar. Estes passos da leitura conheço-os bem, e, por isso, leio sem sobressalto. Quem não os dominar (no meu caso, aspectos da construção da igreja de Moncorvo), dirá, com razão, estar perante um ensaio sob forma de lição amena. Ganhamos com esta função pedagógica. Noutro âmbito, pactuamos com ingredientes de verosimilhança, como o meio-tostão de prata, paga bastante (e recordatório final), além de significar uma latente independência nacional. Mais: liga-nos ao presente da narrativa, após descoberta no perímetro do castelo pelo pedinte Camolas, em diálogo que resulta excelentemente – e o diálogo é uma das virtudes desta obra. Outra virtude está na descrição, que assenta no olhar, e, além de alguns tipos, geografia e instantes, importa o retrato de Violante, no seu colo, já não direi de garça, mas de pelicano, vindo da página 137 para a capa sobre pintura de Maria de Lurdes Baptista, que tão bem resultou. Note-se, por outro lado, um singular processo de encadeamento discursivo: o final de cada capítulo é retomado na abertura do capítulo seguinte, como recuperando a familiaridade do dito e do momento. Outros momentos, no interior da prosa, ficam em suspenso, com aviso de resolução futura. Processo fundamental, em espelho, está nas remissivas histórico-literárias. A sorte da mãe de Violante e seus amores com D. Diogo repete-se na sorte da filha. Sugeri que a fuga para a Terra Prometida tanto lembra a penitência das tribos no Egipto como as expulsões de Espanha, seguidas de conversão forçada e fogo. Expulsão, conversão forçada, criminosos autos-de-fé é uma trindade infelizmente humana, que sofrem esses errantes, quando não fogem. Graças à ficção, o alardo feliz dessa comunidade tanto evoca o alardo da Vilariça com Nuno Álvares Pereira e D. João I, em 1386, como um pequeno grupo de soldados de D. António, em 1580. Também a construção da igreja matriz desde 1544 mostra como conseguem espelhar-se cristãos e judeus, numa lição de tolerância que o texto suscita. Como se as inquisições ali não chegassem, embora a realidade não fosse essa. Espelham-se ainda, entre exemplos que deixo – e relembro alusão ao conto “A rebofa”, de Campos Monteiro –, as Trovas de Bandarra e passos d’Os Lusíadas alusivos ao Quinto Império. Entra, aqui, como exemplo subido dessa ordem especular, a explicação do pelicano. Temos a tese ligada às peles, ao peliqueiro ou pelicano, que podem singularizar uma aldeia, como a de Carção, no concelho de Vimioso. No distrito, a Inquisição perseguia, sobretudo, homens de negócios, industriais da seda e curtidores ou surradores de peles. Vimos o cronista reconhecendo, em Violante, a tentadora e «excessiva beleza» tirada de ave elegante. Temos a dupla tese judaica e cristã, na p. 168: Esta ave «É associada, pelos hebreus, à redenção. A Tora indicaa como exemplo do imenso amor maternal, sacrificando-se pelos filhos. É vulgarmente representada pela imagem de um pássaro a dilacerar o peito e a alimentar os seus pelicaninhos com o seu próprio sangue. Os primeiros cristãos usaram o símbolo para representar Jesus Cristo Nosso Senhor por ter, efectivamente, dado a vida por todos nós, filhos de Deus.» Ora, antes de, no último parágrafo do romance, um lenço que estampava fêmea de pelicano sobrevoar giestas e aterrar numa carrasqueira, uma polémica maior, já secular, é a do pelicano no frontispício do Poema nacional. José Mário Leite segue José Hermano Saraiva no tocante às origens familiares de Camões. Proviriam de Vilar de Nantes, aldeia perto de Chaves, onde Saraiva afirma ter nascido Camões. Outro natural, Pedro Álvares de Freitas, futuro abade de Moncorvo, seria putativo apoio do Vate no imprimatur do Santo Ofício. Agradecido, Camões teria subido à vila para lhe oferecer um exemplar. Eis invenções de ficcionista, não diferentes de aceitar a lenda dos amores de Camões com D. Maria e dizer D. Manuel de Portugal financiador das viagens transatlânticas do soldado Luís Vaz (p. 430). Se não se levanta a questão, aqui, de um Camões judaizante, ela não estaria a mais. A análise passa pelos frontispícios da edição princeps e da contrafacção, com o pelicano olhando à nossa esquerda ou à direita. Usado durante 50 anos, e antes de sofrer pequenas alterações, esse frontispício estreia-se em Reegra & statutos da ordem de Santiago, sob os auspícios de D. Jorge de Lencastre, Duque de Coimbra e Mestre de Santiago. Numa interpretação em parte delirante, Fiama Hasse Pais Brandão vê no pelicano voltado à esquerda um «símbolo de Cristo, enquanto que o pelicano maçónico apresenta comummente o bico para a direita». Gomes de Brito explicou o de 1548: «Aquelle frontispicio é o do Regimento de uma Ordem militar de cavallarias, segundo o proprio arrogante aspecto o mostrava.» Particulariza, com que melhor perceberemos as diferenças futuras («despida de todo o apparato bellico»), e acrescenta: «no pelicano que corôa o frontão concentrava-se um duplo sentido. Aquella ave era a representação symbolica, como o eram os dois golphinhos e o tridente que desappareceu, dos sentimentos profundamente religiosos e christãos que deviam morar no imo peito dos agueridos spatharios, mas era tambem um cumprimento amavel ao regio pae do Mestre D. Jorge, áquelle principe que escolhera para seu brazão o mesmo pelicano que de seu sangue nutre os filhos: profundo conceito politico que define o monarcha previdente que tal pensou.» Pai de D. João de Lencastre, este monarca é D. João II, que este gerou em Ana de Mendonça. A ironia é que, no seu emblema, o pelicano está voltado para a… direita. Vejamos, pois, nesta fêmea-pelicano que ilustra a capa, olhando para a nossa esquerda, e fecha o romance, um símbolo crístico de união sem preconceito e respeito por outrem na sua diferença, para deste chão fazermos uma terra prometida.